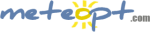Exclusivo
A vida de Marcello Caetano - ensaio de Rui Ramos
27-10-2010
Por Rui Ramos, historiador
Marcello Caetano morreu há 30 anos. Morreu revoltado com o País, para onde não quis regressar nem depois de morto. Sentiu-se sempre incompreendido e traído por todos. Hoje é costume recordar o professor de Direito, autor de uma prosa límpida, com estima, mas o político, metido numa chaimite no largo do Carmo, com algum menosprezo. O que correu mal de 1968 a 1974, quando esteve à frente do Estado Novo? Falta de energia de um homem que chegara ao poder demasiado tarde, com 62 anos, problemas cardíacos e a mulher doente? Falta de jeito ou de ousadia de alguém que, apesar do orgulho de catedrático, duvidava e hesitava de mais?
As questões sobre o marcelismo são geralmente duas. A primeira é saber o que Marcello quis de facto fazer quando dirigiu a ditadura – pensou realmente numa transição democrática? A segunda é saber se alguma vez, nalgum momento, ele teve hipóteses de sucesso, isto é, de evitar o que lhe aconteceu a 25 de Abril de 1974. São duas questões, mas o que acontece é que, geralmente, são tratadas como uma só. Isto quer dizer que, para a maioria dos cronistas e historiadores, perguntar se Marcello poderia ter sucesso é a mesma coisa que perguntar se ele queria fazer uma democracia. Parte-se do princípio de que Marcello tinha um problema para o qual a democracia era a solução e de que o seu destino foi traçado pelo modo como adoptou ou não esta solução. Muito provavelmente, essa não é a melhor maneira de o compreender.
O filho pródigo
Entre 1955 e 1958, Marcello Caetano, ministro da Presidência, fora o número dois de Salazar. Mas depois da sua saída do governo muitos salazaristas passaram a ver Marcello como uma espécie de chefe da “oposição interna” ao Estado Novo. Constava que tanto o Presidente Craveiro Lopes, em 1958, como os altos comandos militares que encararam a hipótese de derrubar Salazar em 1961 haviam pensado em Marcello para chefe de governo. O antigo delfim era agora um usurpador.
De facto, Marcello Caetano tinha sido sempre o filho pródigo de Salazar. Marcello começou a colaborar com Salazar muito novo, como consultor jurídico do Ministério das Finanças (1929). Foi um dos “pais--fundadores” do Estado Novo. Tal como Salazar, era professor de Direito e filho de uma família modesta, mas nunca tiveram um relacionamento fácil. Marcello era muito susceptível e com uma noção rígida de protocolo. A primeira zanga aconteceu logo em 1934. Durante a II Guerra Mundial, Marcello escreveu cartas duras ao chefe do governo: “O governo só se afirma pela repressão.” Salazar tolerou a irreverência, com razão. Em 1944, chamou Marcello para fazer parte de um governo que, no ambiente criado pela derrota da Alemanha, poderia ter sido o último do Estado Novo. Outro ter-se--ia talvez resguardado. Marcello aceitou. Por maiores que fossem as discordâncias, era um salazarista.
Por casamento, Marcello estava ligado a uma família da oposição de esquerda. Lia muito, permitindo-se citações inesperadas (Sartre, por exemplo). Por tudo isso, foi frequentemente visto, na década de 1950, como um “liberal”, por contraste com uma linha “conservadora” encabeçada pelo ministro da Defesa Fernando Santos Costa. Mas tratava-se sobretudo de posições relativas dentro do salazarismo. Marcello não acreditava na democracia. Acreditava simplesmente no Estado Novo, não no que o regime era, mas no que podia ser. Para Santos Costa, o Estado Novo era uma ditadura militar num país onde só à força poderia haver a ordem e o equilíbrio necessários a um progresso sustentável. Marcello nunca aceitou essa visão céptica. Também desconfiava da oposição. Também desprezava partidos e eleições. Também estava disposto a recorrer à força. Mas acreditou que o Estado Novo podia ser popular, através da protecção social e da proximidade dos dirigentes.
Salazar consentiu esta polarização entre Marcello e Santos Costa, segundo a lógica de dividir para reinar. E quando, em 1958, teve de afastar um deles, afastou os dois, para que nenhum pudesse parecer que vencia. A partir daí, constou que Marcello discordava de tudo. Incluindo da maior decisão do regime: a defesa do ultramar. Dizia-se que admitia uma federação, o que, para os defensores da “integridade da Pátria”, era uma heresia quase tão grande como a independência das colónias. No entanto, num País em que só havia vida política de bastidores, nada era claro. Marcello nunca expressou divergências em público. Salazar, pelo seu lado, era ambíguo. Em privado, definia Marcello como “uma pessoa muito difícil, do mais difícil que tenho encontrado”, mas ao mesmo tempo como “um belo espírito”, com “grandes faculdades de trabalho”.
Renovação na continuidade
Em Setembro de 1968, o Presidente Américo Thomaz escolheu Marcello para suceder a Salazar, inválido. A escolha não resultou simplesmente das manobras dos marcelistas, mas da percepção geral de que o regime precisava de dar um sinal de abertura. Estava-se no ano da revolta estudantil de Paris e da Primavera de Praga.
Marcello era um grande professor. Na década de 1960, de regresso à faculdade de Direito de Lisboa, conhecera novas gerações. Tinha fé no poder da sua persuasão e percebera a importância dos meios de comunicação. Saiu à rua, ao contrário de Salazar, e iniciou umas célebres Conversas em Família na RTP. Nunca lhe ocorreu dar às oposições de esquerda a possibilidade de disputar o poder em pé de igualdade. Mas preocupou-o recuperar muita gente que estava de fora ou mesmo contra o regime.
Quase todos aceitaram então falar com ele ou com os seus emissários, e muitos aceitaram integrar-se na vida pública da ditadura. Entre os que mantiveram contactos, embora tivesse recusado submeter-se, esteve Mário Soares; entre os que entraram, Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão e os outros membros da depois chamada “ala liberal”. Mas este êxito veio à custa de equívocos. No caso da “ala liberal”, Marcello julgou que o vinham apoiar, e os liberais julgaram que ele iria fazer o que eles queriam (a democratização do regime).
Em 1968, um dos seus mais velhos amigos, o escritor Joaquim Paço d’Arcos, viu-o como um homem “só, imensamente só perante o drama e os trabalhos” que tinha pela frente. Marcello, como compreendeu o seu crítico Adriano Moreira, tentou dotar-se com o poder que Salazar tivera. Manteve a repressão, variando apenas a intensidade e a nomenclatura. Nunca abdicou da censura e da polícia política, até porque o Estado Novo não desenvolvera recursos para prevalecer de outra maneira – a União Nacional quase não existia e os políticos do regime eram mais funcionários do que líderes públicos. Tentou recriar, dentro do regime, uma pluralidade de correntes que lhe pudesse dar margem de manobra. O seu contacto com os liberais é conhecido. Mas, antes de 1968, também se aproximara dos conservadores, especialmente do Presidente Thomaz.
Marcello precisava de todo o poder para os seus projectos: construir o Estado Social, mas sem pôr em causa os equilíbrios financeiros; fazer as classes médias sentirem-se representadas e informadas, mas sem democracia; e pôr termo à guerra em África, mas sem entregar os territórios aos partidos independentistas. Era a “renovação na continuidade”.
A renovação era necessária porque o País e o mundo mudavam. Portugal, através da industrialização e da emigração, estava a deixar de ser uma sociedade rural, onde era possível confiar na Igreja para disciplinar o povo e no comunismo para assustar a classe média. Todas as potências ocidentais haviam retirado de África. Uma nova cultura pop, de origem anglo-americana, marcava uma ruptura de gerações.
Mas a continuidade também era possível. A integração económica na Europa, por via da EFTA (1959), da emigração e do turismo, suscitara a maior prosperidade de sempre em Portugal, diluindo descontentamentos. Em África, os separatistas não eram suficientemente poderosos para sujeitar os portugueses a uma guerra equivalente à da Argélia ou à do Vietname. A Espanha mantinha-se uma ditadura, dando companhia aos torcionários e censores portugueses.
A herança mais difícil
Marcello mudou mesmo muita coisa. Reformou a classe política: 65% dos deputados eleitos em 1969 eram estreantes. A renovação legislativa foi a maior desde a década de 1930. Marcello foi o verdadeiro pai do Estado Social – uma expressão que em Portugal começou a ser usada por ele. Em 1960, havia 56.000 pensionistas; em 1974, 701.000. Foi ele que implantou a rede de 300 centros de saúde que seria a base do SNS e expandiu a escolarização: os alunos matriculados no 5.º e no 6.º ano triplicaram. Para muita gente, o tempo de Marcello, sempre com a censura e a PIDE, foi no entanto de uma melhoria de condições de vida e de aspirações sem paralelo no passado.
A ideia que ficou é que tudo teria corrido bem até à eleição presidencial de 1972, quando lhe faltara a “coragem” para consagrar a renovação através do afastamento do idoso almirante Thomaz da Presidência da República. É o ponto de vista liberal, que identifica sucesso com “liberalização”. Aos 78 anos e cada vez mais convencido de ser o guardião do salazarismo, Thomaz constituía um risco. Mas era também uma maneira de evitar o risco, ainda maior, da sua substituição.
No seu Depoimento, de 1974, Marcello escreveu: “Toda a minha actuação de governante foi condicionada pela questão ultramarina.” O seu antecessor deixara-lhe o que ele considerou “a mais difícil herança da história de Portugal”. Salazar pensara a guerra em África como uma guerra muito longa, e por isso necessariamente barata, rotineira e com uma justificação simples: a defesa do território pátrio. Marcello não acreditou na viabilidade de um esforço militar indefinido. Alterou, por isso, os termos de referência. Em vez da defesa do território, começou a falar da protecção das populações. Em vez de uma rotina executada por comandantes anónimos, fez da guerra uma sucessão de grandes operações, espectacularmente dirigidas por comandantes com poderes inéditos, como os generais Spínola, Kaúlza de Arriaga ou Costa Gomes. Mas, ao suscitar a possibilidade de um fim próximo da guerra, acabou por a tornar insuportável. Pior: pela primeira vez desde a I Guerra Mundial, Portugal tinha comandantes militares carismáticos, cheios de aspirações políticas. Em 1972, Spínola ou Kaúlza estavam disponíveis para herdar o lugar de Thomaz. A recondução deste poupou Marcello a essa experiência. Mas não o poupou à pressão dos comandantes-chefes, que começaram a conspirar para o derrubar e deram cobertura à insubordinação dos oficiais mais jovens.
Marcello tentou jogar como Salazar atirando uns contra os outros. Entre 1973 e 1974, deu a Costa Gomes e Spínola a chefia das forças armadas e depois afastou-os. Deixou sair o livro de Spínola, Portugal e o Futuro, e depois criticou-o. Pedia a todos que lhe dessem “tempo”, mas era o que começava a faltar-lhe. A crise do petróleo de 1973 gerou inflação ameaçando os equilíbrios financeiros. A economia portuguesa afastava-se de África e ligava-se à Europa. Os liberais romperam com ele e aproximaram-se da oposição. Tudo se tornou incerto, e Marcello, na sua tentativa de ir à frente dos acontecimentos (chegou a pensar em preparar a independência de Angola), tornou tudo ainda mais incerto. Por alguma razão, no momento final, não encontrou quem o defendesse.
Marcello não foi tímido nem mole. Simplesmente, tentou resolver problemas sem solução nos termos em que ele os punha. A 25 de Abril de 1974, refugiado no quartel do Carmo, ainda procurou ter um papel, tomando a iniciativa de falar com o general Spínola. Exilado no Brasil, foi, de entre os salazaristas, dos poucos que não se calou, dando entrevistas e publicando livros. Esteve sempre convencido de que fizera o que devia ter feito – e que ninguém lhe agradecera. As classes altas, de facto, nunca lhe perdoaram. As classes médias e baixas, porém, não esqueceram os anos das vacas gordas do seu governo. Em 1978, segundo uma sondagem do Instituto de Estudos de Desenvolvimento, consideravam-no o político que melhor governara o País nos últimos 10 anos, por comparação com Salazar e os chefes de governo da democracia. Mas só a liberdade, que ele não dera aos portugueses, permitiu provar esse apreço.
Sábado